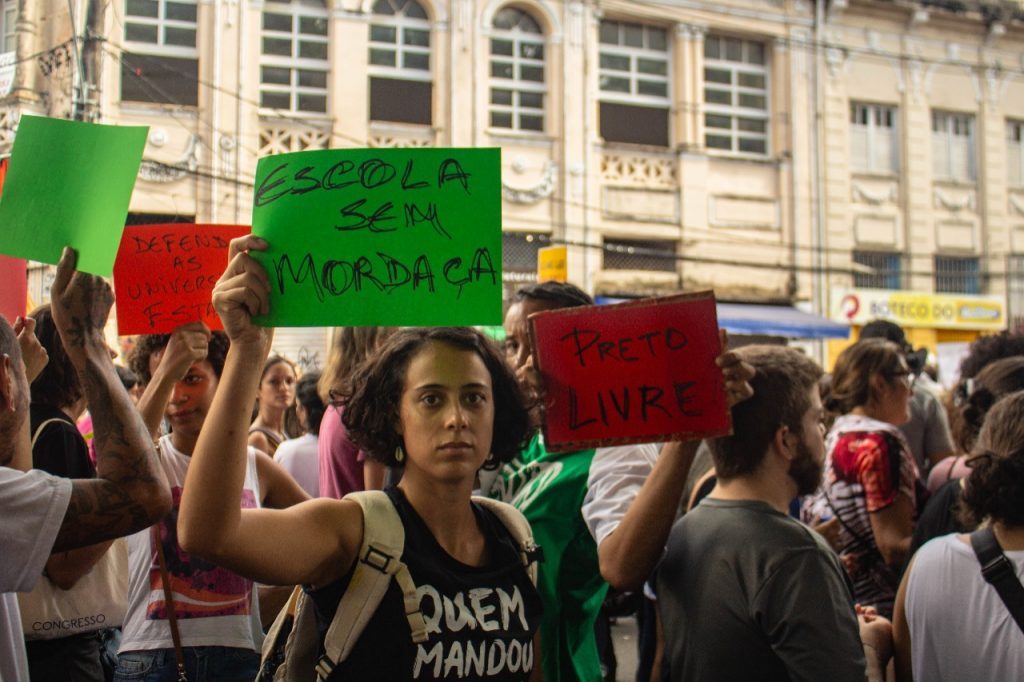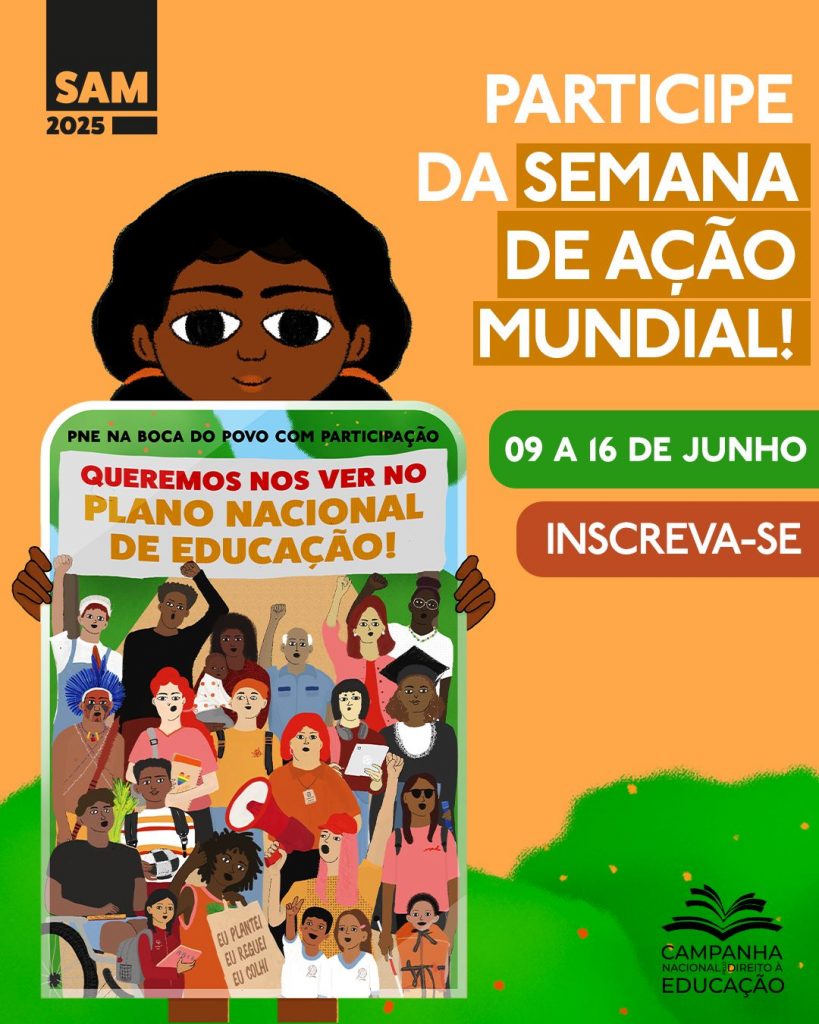Versão aprovada também abre brechas para avaliações estruturadas na meritocracia
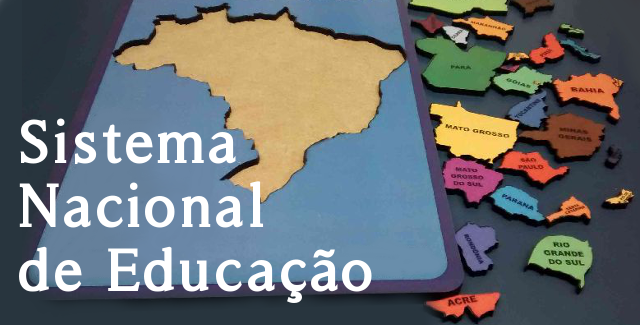
Texto: Nana Soares | Edição: Claudia Bandeira
No fim de outubro, o presidente Lula sancionou a Lei Complementar nº 220/2025, que institui o Sistema Nacional de Educação (SNE), demanda antiga do campo educacional. O SNE tem a função de regular e coordenar as ações e responsabilidades de cada ente federativo – municípios, estados e União – no âmbito financeiro, na formulação, execução e monitoramento das políticas públicas. Ao fazer isso, traz maior coesão e integração às políticas e assegura a colaboração e a cooperação entre as esferas de poder. O sistema também deve ser mais uma ferramenta para combater as desigualdades e fortalecer a participação social e a gestão democrática. Por essas funções, é também chamado de “SUS da Educação” – embora os sistemas sejam independentes.
A lei aprovada tramitava desde 2019 e foi bastante alterada até a consolidação da versão final, que trouxe ganhos importantes, como o detalhamento dos insumos necessários para oferecer o padrão mínimo de qualidade em educação e a garantia do status permanente de instâncias participativas. No entanto, como alertam as pessoas ouvidas para esta reportagem, persistem lacunas e incoerências que podem dar espaço à privatização e a lógicas excludentes. Além disso, a implementação do SNE seguirá sendo um desafio para os próximos anos.
“O projeto aprovado é bastante razoável considerando as discussões históricas em torno do tema, especialmente nos últimos 40 anos. É essencialmente um projeto que articula governança, planejamento, uma qualidade esperada (criando mecanismos para atingi-la), financiamento e avaliação”, resume Sergio Stoco, professor de política educacional na UNIFESP e membro do Fórum Nacional de Educação. “Boa parte do que está na lei é uma expressão de outros instrumentos já construídos ao longo do tempo com a preocupação de resolver conflitos interfederativos”, completa. Dentre os mecanismos da lei, o professor celebra a criação de um fórum específico para tratar a valorização das profissionais de educação, mas se preocupa com a não menção à Educação de Jovens e Adultos (EJA) ou detalhamento de especificidades.
A Iniciativa De Olho Nos Planos reúne, a seguir, algumas das principais inovações trazidas pelo Sistema Nacional de Educação aprovado, ressaltando seus impactos sobre o financiamento da Educação, gestão democrática, participação social e combate às desigualdades, bem como a relação entre o SNE e os Planos de Educação.
O desafio do pacto interfederativo
A existência de um Sistema Nacional de Educação para articular todos os sistemas de ensino do Brasil era uma demanda manifestada há pelo menos um século: estava no Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, de 1932, sendo reforçada em Constituintes, Conferências de Educação e tramitações de outras normativas. A própria lei do atual Plano Nacional de Educação (PNE), de 2014, previa a existência do Sistema a partir de 2016 para assegurar o cumprimento de suas metas e estratégias. Por isso, o Executivo considerou a aprovação do Sistema um “feito histórico”.
O Doutor em História Econômica e professor da Faculdade de Educação da USP, Eduardo Januário, também considera que a aprovação do SNE é um passo à frente “considerando que as discussões sobre o direito à educação e sobre como operacionalizá-lo vêm de muitas décadas, assim como a demanda por um Plano e um Sistema Nacionais que fossem minimamente articulados”. Para ele, a aprovação do SNE é um “avanço na luta pela nossa concepção de Estado”.
O SNE é um mecanismo de governança das várias políticas educacionais no país e dispõe que todas as instâncias têm responsabilidade sobre elas, embora caiba ao Ministério da Educação (MEC) sua coordenação. Essa coordenação, no entanto, deve respeitar a autonomia dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. É onde reside o desafio. “Como articular as ações uma vez que o Estado dá autonomia a estados e municípios? Esse é o nó desde o século XIX”, reforça o professor Sérgio Stoco.
Pelo aprovado na Lei 220/2025, o SNE vai integrar dados, informações e evidências educacionais através de uma plataforma nacional unificada de dados sobre escolas e qualidade do ensino, a Infraestrutura Nacional de Dados da Educação (INDE), cuja gestão e regulação ainda não foram detalhadas e exigem monitoramento. Outra inovação e central para o INDE é o Identificador Nacional Único do Estudante (Inue), um documento comum a todos os estudantes brasileiros. O Inue vai permitir informações sobre fluxo escolar, permanência, trajetória, mobilidade e evasão.
Participação social e gestão democrática da educação
Para dar conta dos conflitos interfederativos, a Lei Complementar 220/2025 criou e regulamentou espaços de negociação e pactuação entre os entes federados, como as comissões tripartites (União, estados e municípios) e bipartites (estados e municípios), além de dispor sobre as atribuições dos Conselhos e Fóruns Nacional, Estaduais e Municipais de Educação.
Andressa Pellanda, da Campanha Nacional pelo Direito à Educação, alerta para a concentração da tomada de decisão do Sistema nos poderes executivos, especialmente na União. Mas, em linhas gerais, avalia que o Sistema estabelece regras mais claras de cooperação entre as partes e fortalece a gestão democrática ao garantir a participação da comunidade escolar e da sociedade civil em conselhos e fóruns de educação – pontos aprimorados na lei a partir da mobilização social. “Isto assegura um controle social mais efetivo sobre a educação, criando um ciclo virtuoso em que o financiamento adequado via CAQ fornece as condições materiais para a qualidade, e a gestão democrática garante que essa qualidade seja construída de forma transparente e participativa, atendendo às reais necessidades das escolas e da população”, diz.
Mas a composição e atribuição de instâncias participativas, bem como as interações entre elas, são também alvo de ressalvas. Sérgio Stoco, do Centro de Estudos Educação e Sociedade (CEDES), pontua uma certa separação nas atribuições de instâncias participativas. Por exemplo, dos Conselhos Municipais de Educação em relação aos Estaduais e ao Nacional – os municipais terão função mais atrelada ao monitoramento do que à deliberação. Mas, principalmente, ele critica que “de maneira geral, a legislação separou as instâncias onde estão os chefes do Executivo, como o Conselho Nacional de Educação, de outras participativas, como o Fórum Nacional de Educação, às quais parece caber monitorar, mas não participar das decisões. Que noção de gestão democrática é essa?”
Salomão Ximenes, doutor em Direito do Estado e professor da FEUSP, celebra o caráter permanente dos Fóruns e Conferências de educação, mas faz coro a essa crítica. Ele pontua uma ausência de inovações no Conselho Nacional de Educação (CNE), que considera desarticulado com o Fórum Nacional de Educação (FNE). E aponta também uma limitação nas comissões Cite e na Cibe, instâncias respectivamente tripartite e bipartite, compostas apenas por gestores. “Entendo que a pactuação federativa saiu bastante fragilizada, resultado do acordo que foi possível no Congresso. Cite e Cibe são compostas apenas por gestores e, principalmente, não têm a previsão de articular suas deliberações com outras instâncias”, diz. Por exemplo: de acordo com o estabelecido no parágrafo 3 do artigo 12 da Lei do SNE, se um estado vota pela desmilitarização das escolas, esse mesmo estado não tem o compromisso de vincular sua política local a esse voto. Ou seja, não há aprovação ou submissão das políticas a essas comissões.
“Ainda, a lei diz que a Cite só pode deliberar, de fato, sobre dois temas: padrão mínimo de qualidade no ensino e implantação de metodologia do CAQ. Em todos os outros, deve publicar ‘resoluções orientadoras’, o que é um oxímoro jurídico. Ora, ou é uma resolução ou uma orientação”, problematiza o professor, mais uma vez destacando o desafio do SNE de equilibrar a autonomia de estados e municípios com as decisões tomadas no âmbito da comissão responsável pela coordenação federativa.
Custo Aluno-Qualidade, financiamento e combate a desigualdades
Em compensação, a institucionalização e regulamentação do Custo Aluno-Qualidade (CAQ), e o detalhamento dos insumos que formam o padrão mínimo de qualidade são celebrados como avanços importantes. A lei do SNE transforma o conceito em um parâmetro legal para definir o padrão mínimo de qualidade e, por consequência, o financiamento necessário para as redes públicas, focando na redução das desigualdades educacionais – o que era demanda antiga dos movimentos e entidades progressistas da educação. Para Andressa Pellanda, da Campanha, é “o coração de uma vitória histórica, em mais um passo de materialização de um mecanismo para superar o subfinanciamento crônico da educação e assegurar recursos previsíveis, buscando promover a equidade”.
A equidade é o ponto central para o professor Eduardo Januário, especialista em financiamento educacional e em relações raciais. Januário reforça que não basta assegurá-la no texto – na lei aprovada, equidade já aparece nos princípios do Sistema. É preciso também desenhar a distribuição de recursos para que ela se materialize.
“A discussão é sobretudo sobre a equidade nos recursos públicos, fazer o dinheiro realmente chegar na quebrada, atender a população negra, a população da base. Nesse sentido, é bem positivo que o SNE estabeleça garantias como equidade e o respeito às especificidades regionais, que fale sobre um orçamento público considerando as necessidades locais e diversidades de cada rede de ensino”, diz o professor. “Mas é sempre importante pontuar que, no Brasil, o problema não está nas leis e sim na aplicação. O movimento social consegue tensionar para que as leis contemplem a população, falta a alocação do recurso na hora de implementar”, complementa.
A preocupação de Januário é compartilhada por Salomão Ximenes, para quem o texto aprovado deixa brecha política para que o Custo Aluno-Qualidade ainda não seja corretamente aplicado. A aplicação do CAQ é uma das atribuições da Cite, o que significa que quem de fato vai decidir os valores a serem repassados é uma comissão formada por gestores. “Isso tende a pressionar a comissão, especialmente porque ela é majoritariamente composta por entes subnacionais. O receio é que na regulamentação prevaleça uma visão fiscalista e não propriamente o conceito de qualidade baseado nos insumos”, explica Salomão.
O professor Sérgio Stoco, da Unifesp, vai além e menciona a ausência de previsões de responsabilização em caso de não cumprimento do CAQ. “Muito avançou, mas poderia ter se avançado ainda mais. Falta estabelecer quais seriam as consequências ou penalizações do não cumprimento do que está na lei e foi definido como parâmetro”, diz.
Avaliação
Em relação aos mecanismos de avaliação da educação, o SNE menciona a implantação do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica (Sinaeb) e do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Profissional e Tecnológica (Sinaept). Além do desempenho escolar, o Sinaeb avalia a qualidade, a equidade e a eficiência da educação básica, ampliando assim o conceito de avaliação. O campo educacional também defende que ele preveja processos participativos de avaliação junto às comunidades escolares, por meio da autoavaliação institucional participativa, para que as realidades e demandas das escolas sejam consideradas nos processos avaliativos e nas políticas educacionais.
No artigo 6º, a lei do SNE diz que cabe aos estados desenvolver sistemas próprios de avaliação da educação básica, em articulação com os municípios, integrados ao sistema nacional de avaliação da educação básica. Já no artigo 50, a lei define os objetivos da Avaliação Nacional da Educação Básica, que contemplam equidade, mas também resultados e desempenho: “aferir a qualidade da educação básica com base no nível de desempenho e na equidade dos sistemas de ensino e de suas instituições públicas e privadas de ensino; avaliar as instituições (…), contemplando a análise global e integrada das dimensões de gestão, de infraestrutura, de recursos e de resultados de aprendizagem”.
Para Andressa Pellanda, coordenadora-geral da Campanha Nacional pelo Direito à Educação, a regulamentação do Sinaeb na lei do SNE contemplou “praticamente todas as dimensões que defendemos historicamente, dando um salto de qualidade na avaliação educacional”. No entanto, ela alerta que o Sistema, como aprovado, vinculou “padrões de qualidade” a resultados, inclusive em avaliação em larga escala.
O professor Sérgio Stoco é cético em relação à avaliação como proposta pela Lei 220/2025. Para o professor da Unifesp, embora seja importante termos como equidade estarem presentes no texto, é difícil superar uma já instalada lógica meritocrática e atrelada aos resultados. “O que nosso campo faz é dizer que esse modelo é ruim, insuficiente e que não dá conta da complexidade da educação, falseando realidades. O tensionamento vai continuar, mas toda a lógica da avaliação está estruturada na meritocracia, no ranqueamento, na comparação”.
Interação entre SNE e Planos de Educação
A regulamentação do Sistema Nacional de Educação é fundamental para o Plano Nacional de Educação (PNE) – cuja tramitação está em curso no Congresso para o documento que valerá para o próximo decênio. Como explicou Andressa Pellanda, da Campanha Nacional pelo Direito à Educação, é como se, em um percurso, fossem bússola e motor.
“Os dois elementos interagem de forma sinérgica e complementar: o PNE atua como uma bússola, estabelecendo o que precisa ser feito ao definir metas e estratégias para a educação brasileira em dez anos. Já o Sistema funciona como o motor ou a engrenagem, criando a arquitetura institucional e os mecanismos práticos para viabilizar o cumprimento dessas metas”. Assim, o novo Plano terá um instrumento a mais para sua implementação, cabendo ao SNE assegurar os recursos necessários através do Custo Aluno-Qualidade e coordenar a colaboração entre os entes federados. “Por outro lado, o SNE se beneficia do PNE, que lhe confere direção, contexto e propósito, fornecendo os objetivos estratégicos de longo prazo que o sistema deve servir e viabilizar”.
Nesse jogo, o cuidado é garantir que o texto do novo Plano, que ainda está em discussão, não seja incompatível com o que acaba de ser definido pela lei de regulamentação do SNE. Os insumos descritos como necessários para o padrão de qualidade, por exemplo.
“O PNE precisa ser participativo e guiado por um princípio de justiça social, como já dizia o título da Conferência de Educação que o discutiu. Ou seja, é preciso nos organizarmos para incidir e avançar, colocando tudo o que precisa ser colocado no PNE – e também porque depois do Plano Nacional, vêm os estaduais e os municipais. Nossa preocupação deve ser nos juntarmos e lutar por um horizonte comum. No caminho, construímos os instrumentos de governança”, reforça o professor Sérgio Stoco, que compõe o Fórum Nacional de Educação.
Desafio futuros
Com suas ausências e avanços, um ponto é consenso: a aprovação da lei do Sistema Nacional de Educação e sua entrada em vigor são apenas o início – e não o final – de um processo. A mobilização e monitoramento da sociedade civil continuam “para garantir que a lei seja não só melhorada, como implementada de forma efetiva e que os recursos de fato cheguem às escolas”, lembra Andressa Pellanda.
Mesma preocupação do professor Eduardo Januário, que insiste na lacuna histórica de implementação efetiva das leis aprovadas no Brasil. “Ainda não conseguimos atrelar o financiamento da educação ao desenvolvimento econômico brasileiro. O SNE tem propostas interessantes e atendeu em grande parte o que esperávamos normativamente, agora cabe a nós do movimento social pressionar para que o avanço de fato ocorra”.